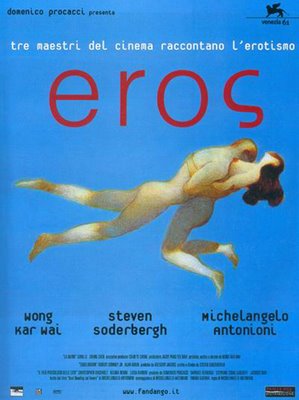Naturalismo: O Cortiço, de Aluísio Azevedo, que foi publicado em 1890, retratando a profusão de gentes que viviam amontoadas nos cortiços da cidade foi, certamente, um dos argumentos que o prefeito Pereira Passos usaria no início do século XX para instaurar o famoso "bota abaixo", aquela reforma urbana que escorraçou todos os pobres para baixo do tapete e transformou o Rio na Paris dos trópicos. Em 2002, a tradição naturalista se mostrou ainda forte com o sucesso de bilheteria Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Naturalista porque quer se vender como verdade inquestionável, utilizando-se capciosamente de um depoimento do bandido Mané Galinha no Jornal Nacional, para legitimar a veracidade de toda a trama. Foi mais fácil tomar os moradores da favela como bandidos, se esquecendo dos grandes traficantes do asfalto. A mídia, com sua tendência ao reducionismo, adorou a idéia. Os moradores, não. Agora, em O jardineiro fiel, Fernando Meirelles se redime fazendo um filme que, naturalista ou não, joga a culpa nos grandes dominadores do mundo. O termo mais lugar-comum que os críticos utilizaram para falar do filme foi 'conspiração internacional'. E é isso mesmo. O filme, que começa com cenas românticas, logo se torna um thriller político ao narrar a história da mulher de um diplomata inglês, Tessa, que descobre laboratórios farmacêuticos testando na miserável população africana um tipo de medicamento contra a hepatite. Em contrapartida, prestam assistência enganosa ao povo que, abandonado, aceita ajuda do primeiro que lhe estende a mão. Com o desvendamento da rede que inclui não só empresas, mas também o acobertamento destas por setores do governo inglês, assim como a ameaça de tornar pública a denúncia, o assassinato da ex-futura heroína é inevitável. Só a partir daí, Justin, seu marido, vai sair da redoma que o protegia para correr o mundo atrás da resposta para a morte de Tessa e perceber que há muito mais corrupção do que ele imaginava. Apesar das mais de duas horas (129 minutos), a edição privilegia muito pouco a relação amorosa entre Tessa (Rachel Weisz) e Justin (Ralph Fiennes), fazendo parecer insólita a motivação do diplomata para levar a ativista à África junto com ele, já que ambos acabaram de se conhecer (só ao final a relação amorosa é retomada, com um desfecho bastante poético). Pouco explorada também é a atividade de jardineiro de Justin. Se se leva à risca o nome do filme, a trama corre o risco de ficar incompreensível já que o personagem aparece jardinando uma única vez. Por outro lado, a quantidade de acontecimentos mirabolantes que poderiam ficar soltos ganham um encadeamento admirável, deixando à mostra o excelente trabalho de direção de Fernando Meirelles. Há que se ressaltar a alternância de filtros de cores frias, quando a câmera mostra o mundinho criado por membros do governo e altos-executivos em suas festas e recepções em plena aridez africana, e os filtros de cores quentes aliados à câmera desorientada, ao mostrar a imensidão da miséria vivida pela maioria da população. A câmera na mão e os movimentos de travelling, como se estivéssemos fazendo uma viagem ao inferno, durante as tomadas de favelas e das sarjetas, nos jogam numa incompreensão da pobreza humana em contraste com o vampirismo de muitos que lá deveriam estar cumprindo um outro papel, que não o de tornar ainda mais pobre a castigada África. Acabei sendo apoderado pelo sentimento de revolta que o filme causa: no sinal de trânsito, tive uma atitude intolerante quando dois carros avançaram o sinal em faixas diferentes e quase atropelaram a mim e a meu amigo. No primeiro, soquei o vidro do carro e no segundo, chutei com força a lataria de um táxi, revoltado que estava com a falta de respeito da espécie. Depois, corremos porque o motorista parou e porque havia ali próximo um carro da polícia. Temi represália física pelas duas partes. Sim, é triste dizer, mas não confio mais na polícia carioca.
O Jardineiro fiel (The Constant gardener), 2005, Inglaterra / EUA, 129 minutos
Direção: Fernando Meirelles
Roteiro: Jeffrey Caine, baseado no romance homônimo de John Le Carré
Fotografia: César Charlone
Montagem: Claire Simpson
Elenco: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston, Hubert Koundé